V SERNEGRA:
decolonialidade e antirracismo
De 20 a 23 de novembro de 2016
IFB - Campus Brasília (SGAN 610, L2 Norte - Brasília/DF)
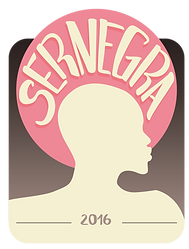
ST 01 - Kilandukilu: (re)conhecimentos em Arte & Educação
Tatiana Henrique Silva
Kilandukilu é uma palavra do quimbundo que significa diversão; divertir, entreter. Entre as tradições afro-brasileiras e ameríndias não se separam do ato de conhecer e se reconhecer dentro do grupo social. A cultura ocidental brasileira elege prioritariamente a escola como o espaço do conhecimento. No entanto, que tipo de construção é elencada ali, principalmente quando se pensa em diversidade cultural e étnica, e o reconhecimento do modo de pensar e construir o mundo para as culturas africanas, afro-brasileiras e dos povos originários brasileiros? Indo ao encontro entre as leis 10639/03 e 11645/08, as equipes escolares e grupos artísticos trazem à baila importantes e necessários diálogos e ações para os campos da Cultura e da Educação. Apesar de muitas mudanças já acontecidas desde a criação destas leis e a persistência de ações de diversos atores sociais para sua real implementação nas escolas, não podemos ignorar que nos livros didáticos – reforçados pela mídia – há uma insistência no sublinhamento da escravidão brasileira como único marco histórico da população negra no Brasil – percebem-se falas, mas poucos fazeres, e quando há esses fazeres, estes acabam reiterando aquele discurso. No entanto, através das Artes – considerando aqui artes cênicas, música, dança, artes visuais, cinema e outras linguagens – e de seus realizadores, percebe-se a possibilidade de desconstrução desse olhar eurocêntrico (base estrutural do sistema escolar, e que acaba por infiltrar outros espaços educativos, como em museus e centros culturais) e a construção de propostas para a diversidade étnica e estética afrodescendente e dos povos originários, incluindo, destacando e/ou colocando como centro irradiador o pensamento não fragmentado e transdisciplinar das culturas ancestrais de tradição oral. Sendo a arte o lugar e o espaço do fazer, e defendendo-se este ser um caminho possível para a sincera realização dos pressupostos pelas leis, trazendo para dentro da escola e dos espaços que atuam em arte-educação, os conhecimentos tradicionais dialogantes e que se encontram presentes e presentificados, esta Seção Temática acolhe propostas de trabalhos, discussões e experiências teórico-práticas realizados para crianças e adolescentes dentro e fora de escolas, projetos socioeducativos, espaços de arte-educação em museus e centros culturais e demais espaços de construção de conhecimento que tenham como cerne o reconhecimento do serameríndix e sernegrx em nossa sociedade.
ST02 - Arte e as multimídias da expressão negra: a fala continua
Douglas Rodrigues de Sousa (UnB) & Ludmila Portela Gondim (UnB)
Pode o subalterno falar? Pergunta Gayatri Spivak. Tanto pode como já o vem fazendo das mais diversas maneiras. Nos últimos anos os povos negros e da diáspora têm protagonizado, nos muitos cenários e discursos sociais, papeis relevantes. E, com isso, têm expressado suas artes, resistindo, quebrando o establishment e preconceitos firmados. Firmando novas e antigas vozes de lutas. Esse protagonismo social/discursivo ocorre por meio dos mais variados suportes de gêneros artísticos. Em tempos de infinitas interconexões midiáticas, novas trincheiras de luta e debates se apresentam. Por meio da literatura em prosa ou poesia, canções populares, HQs, cinema, documentários, performances e outros sistemas semióticos, a estética negra se expressa e acompanha essas mudanças artísticas e midiáticas. Esta Seção Temática tem por objetivo discutir esses novos e antigos protagonismos sociais de informação, veiculação e divulgação na contemporaneidade das estéticas negra, do campo artístico negro brasileiro e de outros países. Pretende-se discutir temas como racismo, sujeitos da diáspora, migrações sociais, des-colonização nessas artes e como são tratados por seus intérpretes, autores (as) e produtores (as). Propomos aqui um navio negreiro de cultura. Da arte popular, escrita, grafada, oral, audiovisual, cantada ou representada. Das influências herdadas dos nossos antepassados de África. Da voz da mulher e do homem negro desde os navios negreiros - dos portões da diáspora - aos grafites de meio de rua, às telas de cinema, às páginas dos romances, aos palcos de teatro e dos bailes do morro. A ressignificação de temas vivos, caros e presentes na arte negra como um todo. Tudo isso pautado no debate da arte, literatura e sociedade em seus variados meios.
ST 03 - Tradução e diáspora negra: entre decolonialismo e antirracismo
Dennys Silva-Reis (UnB) & Cibele de Guadalupe Sousa Araújo (IFG)
Segundo a Teoria Decolonial, a Modernidade está intrinsecamente ligada à Colonialidade e a suas formas de dominação e opressão, notadamente a racial e a de gênero, que avassalaram, sob a desculpa do impulso/princípio civilizatório, povos nas Américas, África e Ásia. Catherine Walsh (2009) esclarece que a Teoria Decolonial se investe não do objetivo de demarcar a transição do período colonial ao seu sucessor ou de reverter o colonial, mas de gestar e incitar a postura, a atitude e a luta contínua, marcadas pela resistência, insurgência e mobilização, para a identificação e visibilidade de ‘lugares’ de exterioridade e construções alternativas na América Latina. Somando a essa Teoria, nas reflexões antirracistas de inúmeros pensadores (dentre eles Amílcar Cabral, Franz Fanon, Jean Price-Mars, Paul Gilroy, Abdias Nascimento, Milton Santos) e nas repercussões dos inúmeros movimentos que deram voz ao ser negro nos diversos cantos do mundo (ao Renascimento Negro nos Estados Unidos, à Negritude na França e nas Antilhas de língua francesa, ao Indigenismo no Haiti, ao Negrismo nas Antilhas de língua espanhola e o Pan-africanismo na África Subsaariana, ao Quilombismo nas Américas), propagam-se a resistência, insurgência e mobilização contra a colonialidade do poder, do saber e do ser considerado superior aos das ex-colônias. Dentro das perspectivas decolonial e antirracista, o papel da tradução, afastada dos princípios de fidelidade e pressupostos de superioridade cultural balizados em sua vertente tradicional, quando figurou como importante instrumento na imposição do poder colonial, imbuída, com o Cultural Turn, dos debates políticos e ideológicos por trás da manipulação do texto traduzido, e, finalmente, eleita, com as colaborações dos estudos pós-coloniais, como local de negociação cultural, é de extrema relevância no que tange à solidariedade entre os povos que sofrem os mesmos preconceitos, à construção de discursos, à partilha de ideias antirracistas e também à difusão cultural a favor da identidade negra. Portanto, a presente Seção Temática visa abranger, dentre outros, os seguintes temas: a difusão de autores negros (literatos ou não), a tradução de literatura negra, a recepção de obras estrangeiras cujo discurso seja antirracista ou de identidade negra, obras de autores negros brasileiros no exterior, o mapeamento da diáspora negra em tradução e os tradutores negros.
ST 04 - Feminismos negros e antirracismo
Luciene de Oliveira Dias (UFG) & Ralyanara Moreira Freire (Unicamp)
A perspectiva dos feminismos negros nos apresenta a possibilidade de alcançar os diversos “pontos de vista” de forma pedagógica no sentido de criar verdadeiras “comunidades de aprendizagem” para a construção de nossa pauta antirracista, em um movimento que pode ser chamado de pedagogia decolonial. Considerando que o antirracismo se empenha na denúncia e no combate, mas, fundamentalmente, preocupa-se com trajetórias afirmadas e prospectivas, fazemos a defesa de que a multiplicidade e a pluralidade são alcançadas a partir das especificidades. A proposta aqui defendida tem dois objetivos bem marcados, quais sejam, o fortalecimento da pauta antirracista e a sistematização do protagonismo feminino e negro na proposição de pesquisas pluriepistêmicas, a partir de aprofundamentos nas produções sobre os feminismos negros. Interessam-nos nesta Seção Temática estudos propositivos sobre relações de gênero e étnico-raciais a partir da troca de saberes, a exemplo de lesbianidades negras, matriarcados de matriz negra, diásporas e memórias de fazeres e saberes de mulheres afrodescendentes em movimento, atuação de mulheres negras na educação, além das representações de mulheres negras na pesquisa e na comunicação social. Vale destacar que as propostas que nos interessam são especificamente as que estejam orientadas para o enfrentamento do racismo, do machismo e das fobias sociais. Com os trabalhos desta Seção Temática, acreditamos que, em um exercício metalinguístico, seja possível exercitar a tomada da palavra na busca pela equidade nas relações sociais.
ST05 - Artes visuais e identidades negras: repercussões e contrapontos
Nelma C. S. Barbosa de Mattos (IF Baiano)
Essa Seção Temática dedica-se a reunir estudos acerca da produção visual de artistas e suas conexões com os agenciamentos identitários e a experiência colonial negra. As hierarquias visuais, estabelecidas e difundidas principalmente a partir dos empreendimentos coloniais, sedimentaram um sistema de operação das visualidades que oferece tratamento desigual aos agentes a partir de critérios próprios de poder. Tais desigualdades enfrentam na atualidade os efeitos da mobilização política de grupos sociais distintos, fundamentados nas identidades. No caso das artes visuais, o debate acerca do racismo e as formas de enfrentamento tem motivado algumas tensões e mudanças em plataformas expositivas de todo o mundo. Portanto, visamos refletir sobre aspectos filosóficos, históricos, sociais e econômicos envolvendo processos criativos e trajetórias artísticas fundamentadas nas culturas negras. Ensejamos compreender como se estabelecem as relações dos profissionais das artes plásticas no circuito oficial da arte nacional ou internacional; o papel dos criadores negros na arte e as formas de afirmação ou negação de seus pertencimentos identitários em poéticas visuais e relações profissionais. Analisaremos o sistema oficial da arte e seus contrapontos, partindo da ótica de discursos identitários locais ou globais contemporâneos. Enfatizaremos a criação visual de origem negra, seus fluxos, trajetórias e limitações.
ST 06 - O pensamento decolonial e a questão étnico-racial na América Latina
Antonio Gomes da Costa Neto (SEDF) & Eliete Gonçalves Rodrigues Alves (UnB)
A Seção Temática propõe debater temas, trabalhos acadêmicos, reflexões, experiências, diagnósticos, além de análises e pesquisas que reflitam sobre a decolonialidade na América Latina, bem como suas implicações nas Políticas Públicas sob o viés étnico-racial. Entre os temas a serem debatidos está à relação das ciências sociais com a opção decolonial, ressaltando as possibilidades de criação de novos paradigmas de conhecimento através de pensadores latino-americanos. Como o pensamento decolonial discute universalismos, globalização, capitalismo, geopolítica e suas implicações no combate ao racismo, qual a sua capacidade de contribuir nas discussões da sobre racismo, na valorização da cultura de origem africana e nas Políticas perante a América Latina? De que forma tem sido capaz de questionar e rebater a modernidade através de suas categorias e seus efeitos no processo de constituição do Estado-nação? Quais as problematizações que podem ser observadas nas Políticas Públicas étnico-raciais ao desvendar “mitos”, indagar dicotomias, repensar o progresso e o desenvolvimento, reconsiderar a barbárie e a civilização, bem como sua capacidade quando apresentada como pensamento crítico teórico cujas propostas podem se constituir em corrente filosófica que concorre de forma efetiva na desconstrução do racismo?
ST 07 - As tecnologias educacionais e o antirracismo
Joalva Menezes de Moraes (SEC-BA)
As tecnologias aliadas ao processo educativo podem trazer benefícios tanto para a educação, como para a compreensão da relevância do papel do cidadão em seu grupo social. Muitos autores, hoje, consideram a internet como um espaço fértil para os fóruns públicos de diversas naturezas. O audiovisual no ambiente escolar pode se tornar um grande aliado para os educadores, que a partir da mediação, poderão realizar atividades que estimulem a autonomia e a criticidade dos estudantes, principalmente acerca de questões pouco presentes nos livros didáticos, como a educação para as relações étnico-raciais, por exemplo. Seguindo esses critérios, a TV Escola - MEC, TV Paulo Freire - Secretaria da Educação do Paraná e TV Anísio Teixeira - Secretaria da Educação da Bahia são exemplos de veículos de comunicação que apresentam, em sua missão, a concepção de produtos audiovisuais educativos e direcionados à comunidade escolar, inclusive, objetivando proporcionar material que viabilize a formação de professores. Essas iniciativas modificam a concepção da televisão, não privilegiando apenas seu caráter mercadológico, além de levar para a sala de aula conteúdos contextualizados com suas regiões e discussões de temas diversos que fogem da hegemonia de grupos socialmente dominantes. Desta forma, tendo em vista os objetivos do SERNEGRA 2016 que pretendem trazer o enfrentamento da desigualdade racial ainda tão presente em nossa sociedade, seria extremamente relevante inserir uma Seção Temática - ST que proporcione reflexão, discussão e troca de experiências, de educadores de todo o país, sobre o uso de tecnologias educacionais que tenham como foco as questões étnico-raciais e o antirracismo. Serão momentos muito ricos onde dois temas tão interessantes e atuais estarão em pauta: as tecnologias votadas para a educação e as relações étnico-raciais.
ST 08 - Performances na arte computacional: abordagens e discussões sobre gênero e raça
Elias do Nascimento Melo Filho (UnB) & Suzete Venturelli (UnB)
A Arte computacional é entendida genericamente, como qualquer tipo de arte em que um computador tem papel fundamental na criação ou na exibição da obra. Tais obras podem ser imagens, sons, animações, vídeos, CDs ou DVDs, videogames, um site da internet, a aplicação animada de um algoritmo, etc. Essas obras podem ter diversos tipos de discussões diferentes, como, por exemplo, abordagens sobre obras que intitulam gênero e raça como poética principal. Nessa discussão, o conceito de performance adquire formas variadas, cambiantes e híbridas. Há algo de não resolvido nesse conceito que resiste às tentativas de definições conclusivas ou delimitações disciplinares. Com base em diferentes campos do saber e da expressão artística, que alcança desde o teatro e as artes performativas à antropologia, sociologia, psicanálise, linguística, a pesquisas sobre folclore e aos estudos de raça e gênero, formula-se o conceito de performance. Essa Seção Temática tem como objetivo abranger trabalhos das áreas Artísticas (Visuais, Teatro, Dança e Música), que abordem conceitos de Arte Computacional e Tecnologias voltadas as Mídias Interativas e de Comunicação, como Redes Sociais, programas culturais e eventos públicos.
ST 09 - Os africanos no mundo atlântico: interações entre África e Brasil a partir de uma leitura decolonial
Dayane Augusta da Silva (IFG) & Renata Jesus da Costa (SEDF)
Esta Seção Temática visa acolher propostas de pesquisa que abordem os africanos a partir de uma posição de centralidade tanto em África quanto no Brasil. Tal ponto de vista nos convida a repensar os africanos para além da condição de passividade imposta a estes por uma historiografia que não considerava a movimentação histórica própria do continente africano e de seus habitantes. Entendemos que uma das maneiras de combater pensamentos enraizados sobre uma hipotética apatia dos africanos, frente ao processo de implantação e vigência do colonialismo, perpassa pela inserção de novas temáticas. A questão de gênero, da organização do trabalho, da cultura e da economia, por exemplo, tem alcançado relevância acadêmica por fornecer outras perspectivas de interpretação à história desse continente. O uso da fonte oral é outra importante ferramenta no processo de reflexão do africano enquanto sujeito histórico. Vansina nos explica que as sociedades orais africanas reconheciam a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, expresso por meio de uma tradição. Esse testemunho atribuía à palavra um duplo poder, no qual “dizer” é “fazer”. Para tanto, esse simpósio temático busca contemplar trabalhos que dialoguem com os diferentes usos das fontes orais ou outras narrativas que revelem os “silêncios” causados pelo desinteresse ou pelos estereótipos elaborados sobre o continente negro.
ST 10 - A matriz africana na visualidade brasileira, práticas poéticas de resistência negra
Táta Kinamboji/Arthur Leandro (UFPA) & Carlos Eduardo Moreira Vera Cruz
Desde a chegada da missão francesa no Rio de Janeiro e da fundação da Academia Nacional de Belas Artes, que a política pública para as artes visuais declara a dependência dessa produção aos conhecimentos das ‘luzes’ do iluminismo europeu, diretriz que vai se reproduzir em toda a política oficial de cultura e de ensino de artes que persiste até os nossos dias. A missão francesa também vai gradativamente inserir a noção do artista como o ‘gênio criador’ e a arte como valorização da potência criativa individual, em detrimento da produção de arte coletivizada em comunidades. Esse processo de embranquecimento tem usado as escolas e universidades como um dos principais agentes legitimadores da hegemonia eurocêntrica nas artes visuais e na produção dos saberes. Aos artistas negros e de comunidades tradicionais de matriz africana, a tendência é o esquecimento de suas raízes para poderem pensar em inserção no circuito profissional. Propondo um caminho inverso ao padrão hegemônico europeu na produção de artes visuais, esta Seção Temática visa congregar pesquisas e relatos de experiências que tenham em comum a visualidade de Matriz Africana na diáspora brasileira, buscando elementos da resistência política e narrativas visuais de resistência negra na representação de subjetividades e identidade. Nossa meta é estreitar cada vez mais os laços das artes com as ciências humanas e com o discurso político de afirmação de identidade e de reconhecimento da origem africana de práticas artísticas, visando a construção de um nicho de resistência e valorização de artistas e obras que se fundam no patrimônio cultural afro-brasileiro.
ST 11 - O ‘não-lugar’ de pessoas negras no ensino superior no Brasil
Sandra Maria Cerqueira da Silva (UEFS/FAT) & Nadir Nóbrega Oliveira (UFAL)
Enquanto em alguns lugares no mundo pesquisadores, tais como: Caplan & Ford (2014); Norton, Vandello, e Darley, (2004) buscam identificar e eliminar atitudes racistas veladas nas universidades. Aqui ainda estamos lutando por questões básicas como o respeito as mulheres, pela oportunidade ao ensino de qualidade e depois pelo acesso e permanência no ensino superior etc. Com vista a descolonizar a história - ponto de vista que corrobora para construção de outra interpretação, voltada para o enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil - torna-se imperioso analisar a colonialidade do poder, do saber e do ser, que poder levar pessoas negras a despersonalização. Afinal, a imagem construída do país é a de haver harmonia entre as diferentes etnias que compõem a população. Assim, o objetivo da sessão é explorar as formas mais sutis de violência e micro agressões de racismo e sexismo nos estabelecimentos de ensino superior, ou seja, efeitos da falácia da democracia racial na academia sob a perspectiva crítica decolonial.
ST 12 - Decolonialidade e educação
Tânia Mara Pedroso Müller (UFF) & Luiz Fernandes de Oliveira (UFRRJ)
Nos últimos anos, a problemática das relações entre educação e diferenças culturais tem sido objeto de inúmeros debates, reflexões e pesquisas, no Brasil e em todo o continente latino-americano. As questões e os desafios se multiplicam. As buscas de construção de processos educativos culturalmente referenciados se intensificam. Nesse universo de preocupações, os estudos sobre diferenças culturais e diversidades vêm se projetando no espaço acadêmico e nos movimentos sociais, a ponto de interferir de forma concreta em políticas públicas e ações governamentais. Nesse contexto, localizamos a produção do grupo “Modernidade/Colonialidade”, formado por intelectuais de diferentes procedências e inserções, que busca construir um projeto epistemológico, ético e político a partir de uma crítica à modernidade ocidental em seus postulados históricos, sociológicos e filosóficos. Consideramos as contribuições desse grupo de especial relevância e originalidade, apresentando potencial instigante para a reflexão sobre interculturalidade e educação, no contexto atual do continente latino-americano e, especificamente, no nosso país. O postulado principal deste grupo é que a colonialidade é constitutiva da modernidade, e não derivada. Ou seja, modernidade e colonialidade são as duas faces da mesma moeda. Graças a colonialidade, a Europa pode produzir as ciências humanas com um modelo único, universal e objetivo na produção de conhecimentos, além de deserdar todas as epistemologias da periferia do ocidente. A partir dessa formulação, alguns autores como Catherine Walsh, vem desenvolvendo reflexões acerca da Pedagogia decolonial que significa expressar o colonialismo que construiu a desumanização dirigida aos subalternizados pela modernidade europeia e pensar na possibilidade de crítica teórica à colonialidade. Esta perspectiva é pensada a partir da ideia de uma prática política para visibilizar, enfrentar e transformar as estruturas e instituições que têm como horizonte de suas práticas e relações sociais a lógica epistêmica ocidental, a racialização do mundo e a manutenção da colonialidade. Assim, por entendermos a colonialidade como conceito necessário para se pensar outra pedagogia, nosso objetivo na ST é possibilitar a reunião de trabalhos que reflitam a partir dessa perspectiva teórica e contribuam ao aprofundamento deste debate na Educação Brasileira e para o estabelecimento de uma pedagogia antirracista.
ST 13 - Estudos sociobiográficos de mulheres negras no Brasil
Luciana da Silva Melo (UnB)
A proposta da Seção Temática (ST) "estudos sociobiográficos de mulheres negras no Brasil" é abordar a questão do papel das mulheres negras - como Lélia Gonzales, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, dentre outras - na formação intelectual e na estrutura de reconhecimento da sociedade. Para tanto, a ST quer trazer o pensamento e a contribuição dessas mulheres negras para o centro da discussão: o motivo da pouca visibilidade, do silenciamento dessas vozes, bem como da falta de reconhecimento dessas mulheres no cenário do pensamento social e político brasileiro. Segundo uma perspectiva decolonial, o mundo contemporâneo rompe com o argumento de uma história única, amparada pelas narrativas legitimadoras de ideologias de dominação do homem a partir de diferenças raciais hierarquizadas que justificam o processo civilizatório. Todavia, essas narrativas querem se colocar numa arena de enunciação em que não apenas as narrativas do mundo anglofônico possuem voz, mas também as dos povos ao sul do Atlântico Negro (GILROY, 2001). Toda essa discussão corrobora para a tese de que o mundo hegemônico contribuiu para dizimar populações negras não apenas do ponto de vista físico (genocídio), mas do seu saber e de sua cultura (epistemicídio). O preconceito racial no Brasil tem como marcador o sistema escravista. Após a Abolição, a identidade nacional surge como uma questão central. Os comportamentos discriminatórios aparecem justificados por teorias científicas, cuja lógica carrega a ideologia do racismo. Nesse sentido, as populações negras estão historicamente submetidas a condições que as inferiorizam, como a disseminação da ideia de que os negros são fortes para o trabalho braçal, mas não são indicados para as funções intelectuais. Essa visão distorcida, além de fazer relação direta entre as características físicas e biológicas e as intelectuais e morais, resvala para um determinismo de classe, no qual os negros ocupam condições precárias de trabalho/emprego e baixa remuneração.
ST 14 - Gênero e raça no audiovisual: linguagens, produções e tecnologias
Edileuza Penha de Souza (UnB) & Pedro Andrade Caribé (UnB)
A proposta da Seção Temática é oferecer espaço para a apresentação de pesquisas que discutam gênero e/ou raça nas múltiplas linguagens e tecnologias do audiovisual no Atlântico Negro: cinema, televisão e internet, seja ficção, documentário ou animação, independente do formato: curta ou longa-metragem, série ou telenovela. Abarcamos pesquisas voltadas para análise do discurso, análise de conteúdo, política, educação, políticas públicas e processos ou estruturas de produções. Enfatizamos obras integrantes do cinema negro enquanto gênero, nas quais é possível encontrar, ao menos: controle e direção dos direitos autorais sob responsabilidade da população negra; diálogo com as reivindicações dos movimentos negros; integrante de repertório de educação no enfrentamento ao racismo; linguística reconhecida na trajetória da arte negra; ou construção de memória e ancestralidade das populações de origem africana na modernidade. O Atlântico Negro representa o aspecto transnacional e diaspórico, evolvendo fluxos e conflitos da população negra que passaram por processos de colonização e escravismo na África, Caribe, Europa, América Latina, Europa e Estados Unidos. No caso brasileiro, realçamos um estágio ainda em construção dos seus pilares e contribuições no cenário transnacional. Na contemporaneidade, o perfil destas obras é marcado por paulatina presença de mulheres negras, que por sua vez, emerge o paradigma do cinema negro no feminino que interseccionaliza gênero e raça em práticas sociais lastreadas por amor e afeto enquanto agência de superação os processos de opressão.
ST 15 - Educação das relações étnico-raciais
Ruth Meyre Mota Rodrigues (UnB) & Fernanda Rachid Machado (UNIP)
Nos últimos anos, diversas pesquisas vêm denunciando as diferenças de condições e oportunidades entre as populações negra e branca no Brasil no tocante ao acesso a direitos sociais básicos e, em especial, a espaços de prestígio social. No âmbito educacional, o racismo determina trajetórias diferentes entre os dois grupos sociais imprimindo o insucesso escolar aos/às aluno/as negros/as como resultado da reprodução do preconceito e processos discriminatórios. A despeito dos avanços e conquistas resultantes de incansáveis reivindicações dos movimentos negros, como a determinação legal de inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo da educação básica (Artigo 26A da LDB/96), o racismo segue promovendo o fracasso e a exclusão escolar na educação básica, afetando, consequentemente, o acesso ao ensino superior. Manifestações de cunho racial presentes nas escolas não envolvem apenas posturas e ações individuais, há um processo de institucionalização do racismo nos sistemas de ensino brasileiros ainda impregnados pela ideologia da hierarquização entre grupos raciais. Nesse contexto, o papel dos/as profissionais da educação, em especial gestores/as e professores/as, torna-se imprescindível no combate ao racismo educacional. Consequentemente, a formação inicial e continuada desses atores/atrizes sociais, envolvidos /as diretamente na formação de nossas crianças e jovens, não prescinde de cabedal teórico que possibilite transformações sociais por meio de uma educação antirracista. A presente proposta de Seção Temática busca promover debates e provocar reflexões sobre processos segregacionistas em função do pertencimento racial, bem como abordar, no ensino básico, a importância do ensino e valorização da cultura africana e contribuições dos afrodescendentes na constituição da sociedade brasileira como caminho para a superação de ideologias colonialistas.
ST 16 - Saúde da população negra
Ariandeny Silva de Souza Furtado (IF Goiano) & Bruna de Oliveira
Compreender o contexto histórico-social da população afro-brasileira e consequente vulnerabilidades e marginalização econômica, social, cultural desde a abolição da escravatura é fundamental para reconhecer a dimensão biopsicossocial do racismo enquanto condicionante/determinante na assistência à Saúde Pública no Brasil. Dados demonstram a hierarquização da raça branca em detrimento da negra na assistência à saúde e as consequências do racismo institucional no Sistema Único de Saúde (SUS), o qual, pelo processo de desafricanização, nega ou no mínimo invisibiliza a história, a religiosidade, a musicalidade, o dialeto, a culinária, a arte, os saberes, o respeito às tradições e às expressões culturais, à estética negra, a oralidade e demais signos e significados envoltos da história e cultura Africana e Afro-Brasileira. Ao legitimar a desafricanização, a equipe multiprofissional e gestores do SUS corroboram com a violação do Direito Humano à Saúde da população negra, que não passa a ser compreendida no seu contexto bio-psico-social, onde torna-se impossível avançar na efetivação dos princípios doutrinários do SUS da integralidade, equidade e universalidade da atenção à saúde. As iniquidades e injustiças raciais que a população negra está exposta, são confirmadas pelos dados censitários, que demonstram que em todos os indicadores a população branca tem mais privilégios do que a população negra e no perfil epidemiológico, onde os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) irão refletir na tríade saúde-doença-cuidado. Faz-se necessário avançar na equidade racial nas políticas públicas, como forma de reconhecer a diversidade racial da sociedade brasileira, garantindo a integralidade da assistência à saúde e a materialização dos Direitos Humanos. Nesse contexto há necessidade cada vez maior de atuar em prol da implementação, monitoramento e avaliação do SUS, na superação dos demarcadores e hierarquizações de raça em prol da promoção da equidade racial nas políticas públicas de saúde e igualdade de direitos.
ST17 - Vozes negras e "reexistência"(s) - discursos de protagonismo e mobilização social
Gersiney Pablo Santos (UnB)
A Seção Temática (ST) “Vozes negras e ‘reexistência’(s) – discursos de protagonismo e mobilização social” tem por objetivo propor um momento de reflexão acerca de como o entendimento crítico dos conceitos de raça e de gênero podem, articulados a determinados discursos de protagonismo cidadão (SANTOS, 2014), contribuir para projetos de poder de grupos socialmente desprestigiados. Para atingir o intuito, a ST será, assim, baseada na perspectiva dos estudos discursivos críticos desenvolvidos no âmbito da Análise de Discurso Crítica (ADC) (FAIRCLOUGH, 2003, 2010; RESENDE & RAMALHO, 2011; PARDO, 2011) e nas discussões referentes à identidade (RAMOS, 1979; HALL, 2006; MUNANGA, 2014) negra no Brasil. Os trabalhos desta ST terão como norte a observação crítica da relação entre linguagem, sociedade e o protagonismo cidadão como processo para uma efetiva mudança social. Desse modo, as reflexões sobre protagonismo social e cidadania serão relacionadas ao conceito de “reexistência” (SILVA, 2009) – ou ‘reexistências’ –, entendido como uma possibilidade concreta de indivíduos em coletividade assumirem e sustentarem funções socialmente transformadoras nas comunidades às quais estão direta e/ou indiretamente envolvidos.
ST 18 - Análise de Discurso Crítica, raça e gênero: o discurso em perspectiva
Gersiney Pablo Santos (UnB) & Jacqueline Fiuza da Silva Regis (UnB)
Na seção temática (ST) “Análise do Discurso Crítica, raça e gênero: o discurso em perspectiva” temos como principal objetivo promover um espaço de discussão e reflexão sobre raça e gênero a partir da perspectiva dos estudos discursivos críticos (JÄGER, 1996; FAIRCLOUGH, 2003, 2010; RESENDE & RAMALHO, 2011; PARDO, 2011). Para tanto, convidamos expoentes de pesquisas desenvolvidas no âmbito do discurso – aqui concebido como prática social de manutenção e/ou transformação de paradigmas sociais – a compor conosco um debate e uma troca de conhecimentos referentes ao papel da linguagem como cenário fundamental nos diversos embates pelo poder. Como a Análise de Discurso Crítica (ADC), que se situa numa interface entre a Linguística e as Ciências Sociais, tem um amplo escopo de aplicação e permite abordar distintas práticas sociais, pois todas elas apresentam, em maior ou menor grau, um componente discursivo materializado em textos, esperamos reunir uma diversidade de trabalhos realizados nessa perspectiva, com uma visão crítica acerca de temas concernentes à negritude, a raça e a gênero como exemplos vivos da relação intrínseca entre linguagem e sociedade. Ademais, desejamos construir um espaço de reflexão relativo à posição desses temas na atual conjuntura do Brasil, com base nas concepções defendidas pela ADC e na proposta central desta seção.
ST 19 - Ser mulher quilombola: raça, gênero e saberes
Shirley Aparecida de Miranda (UFMG) & Tatiane Campos dos Santos (UFMG)
Esta Seção Temática (ST) tem como objetivo promover um espaço de discussão que contemple mulheres quilombolas, com intuito de tornar visíveis modos de vida, formas de ação e interação que mobilizam valores, saberes e poderes. A proposta dessa ST parte do pressuposto de que a manutenção de um poder colonial na sua estrutura sócio-política brasileira fez-se através de muita sofisticação e com a colonização de mentes e corpos. Nesse processo, grupos sociais foram construídos como “invisíveis” por meio de aparatos jurídicos e discursivos. As comunidades remanescentes de quilombos são tributárias desse processo e seu reconhecimento enquanto grupo formador da sociedade brasileira, em oposição aos significantes que produziram sua circunscrição ao passado escravista resulta de embates políticos de múltiplas ordens. Dessa forma, identificar-se como quilombola é um ato político e suscita mudanças nas maneiras como identidades são acionadas – comunidades negras, afrodescendentes, quilombolas. Se tomarmos “mulheres” enquanto categoria nativa que organiza experiências e sociabilidades, como essa categoria é articulada à quilombola? Que espaços de circulação, significações e maneiras de se posicionar em diferentes contextos políticos na luta por reconhecimento são partilhados pelas mulheres nos quilombos? Como elas agenciam a identidade quilombola emergente e a ancestralidade em situações de conflito? Quais são os deslocamentos que fazem em relação a uma posição de subalternidade. A intenção dessa ST é refletir sobre esses e outros questionamentos, mediados pelos processos de produção de saberes e numa perspectiva interdisciplinar.
ST 20 - Literatura e História: narrativas midiáticas como expressão decolonial
Cristiane de Assis Portela (UnB) & Vânia Alves da Silva (UnB)
A Seção Temática proposta busca reunir pesquisas que envolvam narrativas midiáticas, sejam essas tomadas como objeto de análise teórica em interface com a História e a Literatura ou apresentadas como produtos resultantes de reflexões que envolvam perspectivas contra-hegemônicas e que apresentam um potencial discursivo de decolonialidade. Interessa-nos pensar como podemos nos apropriar - como pesquisadores do audiovisual, da literatura, do teatro e das artes em geral - da construção de discursos combativos, sejam eles como autodenúncia e ou que se proponham ir além do autodenúncia, constituindo poéticas de resistência. Se assumirmos a compreensão de que as mídias – sejam elas tradicionais/convencionais ou digitais – se constituem como elementos de cultura que possibilitam a mediação entre linguagens, conteúdos e ferramentas, e que estas se propagam de maneira cada vez mais intensa na contemporaneidade, é possível efetuar o deslocamento de alguns de seus pressupostos, notadamente a questão de sua relação com a realidade vista como algo externo aos discursos e, portanto, externo também aos sujeitos que falam, para entendê-las, de maneira mais ampla, como narrativas midiáticas, dotadas de poética e plurissignificação entre os territórios de interlocução. Assim, compreendemos mídias em um sentido amplo, como espaços discursivos pelos quais circulam e se produzem narrativas, problematizando as relações intersemióticas entre “referencialidade” e “ficcionalidade”, bem como seus possíveis desdobramentos conceituais, atos responsivos do discurso e inacabamentos da narrativa, por vezes, considerada histórica. Incluem-se, desta maneira, abordagens que expressem projetos de resistência aos construtos de tipo colonial, associados aos recortes étnico-racial, de gênero, classe, sexualidade, infância etc.
ST 21 - Literatura afro-brasileira: cultura e resiliência
Irineia Lina Cesario (Fac. Fortium) & Elisangela Aparecida da Rocha (Fac. Fortium)
Em 1952, o líder revolucionário guineense, Amílcar Cabral, escreve um texto fundamental a respeito da poesia das ilhas, o ensaio Apontamentos sobre a Poesia Cabo-verdiana constitui um importante documento a nortear as ações dos poetas, cujas obras materializaram o engajamento nas lutas de libertação e combate à ditadura salazarista. Cabral destaca que é preciso que os poetas cabo-verdianos encontrem o refúgio em sua própria terra, defendendo que a poesia deve encontrar e definir sua função social. A luta de Libertação como um ato de cultura é, dentre todos os aspectos do pensamento de Amílcar Cabral, aquele que maior poder de inovação apresentou nas lutas de libertação dos países africanos. A cultura é a verdadeira base do movimento de libertação, sendo que somente as sociedades que preservam sua cultura são capazes de mobilizar-se, organizar-se e lutar contra o domínio, “sendo o domínio imperialista a negação do processo histórico da sociedade dominada, é necessariamente a negação do seu processo cultural” (2008, p.228). Ou seja, a resistência cultural é uma das formais mais efetivas de resistência à dominação: (...) é certo que a dinâmica da luta exige também a prática da democracia, da crítica e da autocrítica, a participação crescente das populações na gestão da sua vida (CABRAL, 2008, p. 231). O objetivo central da Seção Temática (ST) é propiciar um espaço múltiplo para discussões entre pesquisadores das áreas de Literatura e Educação que têm nas obras literárias de escritores afro-brasileiros e africanos a cultura – no dizer de Amílcar Cabral como" a síntese dinâmica, ao nível da consciência do indivíduo ou da coletividade, da realidade histórica, material e espiritual, duma sociedade ou dum grupo humano, das relações existentes entre o homem e a natureza, como entre os homens e as categorias sociais" (2008, p.228). Nesse sentido, trabalhos que abordam temas como memória, identidade, autorrepresentação, gênero e questões étnicos-raciais amparados pela teoria decolonial, serão colaborações fecundas para a presente ST.
ST 22 - Experiências em torno do gênero, raça e sexualidades: diálogos entre as Ciências Sociais e a decolonialidade. Gleides Simone de Figueiredo Formiga (SEDF) & Paula Balduino de Melo (SEDF)
Sistemas de poder como o racismo, o patriarcalismo, o capitalismo e a heteronormatividade estão historicamente conectados, estruturando e fundamentando modelos de relações políticas sociais e intersubjetivas nas sociedades ocidentais. Nesses modelos, os lugares determinados para mulheres negras, pobres e lésbicas são lugares de desvantagem estrutural, que ganham forma nas relações cotidianas, na trajetória dos afetos e na construção de subjetividades.
Na América Latina, tais sistemas de poder tem uma historicidade intrinsecamente relacionada à colonialidade. Assim, para compreender as especificidades que estruturam relações e subjetividades nessas sociedades é imprescindível entender os princípios que estruturam o poder e a trajetória colonial latino-americana.
A colonialidade embasa também a construção do saber nessas sociedades, assinalando para a universalização do saber ocidental e eurocêntrico, fundamentando epistemologias sistematizadas em instituições politicamente legitimadas para construir e difundir narrativas e dinâmicas epistemológicas. Nesta Seção Temática (ST), abordaremos as intersecções entre raça\etnia, classe, gênero e sexualidade na formação dos afetos e das subjetividades. Serão bem-vindas também discussões que envolvam a relação entre essas categorias e a construção e legitimação do saber nas Ciências Sociais. Convidamos trabalhos cuja metodologia tenha referência na etnografia, na construção de narrativas baseadas em memórias, afetos, histórias de vida e /ou trabalhos que abordem o diálogo das Ciências Sociais com a Decolonialidade e proponham alternativas para fomentar uma ciência social que dê conta dessa articulação sui generis.
ST 23 - Feminismos, negritudes, corporalidades e descolonização do conhecimento
Francy Eide Nunes Leal (UFG) & Elismênnia Aparecida Oliveira (UFG)
Pensando na primavera feminista, encabeçada por jovens negras por todo o Brasil, e no protagonismo de mulheres em suas lutas e vivências, enfrentando o racismo sexista e os processos de silenciamento, pretendemos criar nesta Seção Temática (ST) um espaço de escuta e diálogo. Somos jovens periféricas, também na universidade entre outros espaços, pensando produção de conhecimento descolonizada. Adotamos uma trajetória teórico-metodológica de vertentes feministas da América Latina, Afro-caribenha, dos estudos subalternos, decolonial, de autorias quilombolas e indígenas, a partir delas realizaremos apontamentos. Esperamos, portanto, compartilhar e aprender com quem estiver disposta e disposto ao tema, desde suas vivências até suas pesquisas, escritas e demais produções. Partimos da 'produção de conhecimento' como organizadora de mundos referente à saúde, educação, políticas públicas, corporalidades, militâncias, direitos humanos, economias, trabalho e magias. Portanto, nesta ST aguardarmos propostas que abarquem de forma interdisciplinar e interseccional esses saberes a partir da desconstrução de hierarquias sociais e da quebra do poder e do ser.
Desta forma, entram nessa perspectiva trabalhos sobre/de/com movimentos sociais, bem como a produção de conhecimento de raizeiras, parteiras, quilombolas, indígenas, lesbianas, mulheres trans e jovens que descolonizam saberes em suas lutas diárias e institucionais.
ST 24 - Saber e ser “lacrante”: por uma visibilidade de negras e negros LGBT - lésbica, gay, bissexual, travesti e transexual! Ana Cristina Conceição Santos (UFAL) & Daniel de Jesus dos Santos Costa (UnB)
Esta Seção Temática (ST) visa acolher as pesquisas com foco na população negra LGBT - Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti e Transexual nos diferentes campos de conhecimento. Os marcadores interseccionados de raça/cor, gênero e sexualidades permitem a construção de novas “identidades políticas” que dialogam entre os movimentos sociais e/ou com o Estado Brasileiro para reivindicar o enfrentamento ao racismo, sexismo e LGBTfobia. Para isto, pensam-se nas análises de experiências que vão das subjetividades, da afrohomoafetividade, das resistências cotidianas, da vulnerabilidade e do empoderamento. Propomos algumas questões para a ST: Como podemos compreender estas identidades envolvidas em diferentes sociedades, culturas, grupos e movimentos? Como ser negra(o) interfere nas relações de gênero e sexualidades nas sociedades? Quais são as percepções do racismo e LGBTfobia interseccionados? Quais sãos as estratégias tidas pelos movimentos negro e LGBT para dialogar suas demandas com o Estado Brasileiro? Quais são as práticas sociais das organizações negras LGBT para pensar o reordenamento das bases culturais e históricos das relações com o Estado e com outros movimentos? No entanto, a ST está aberta a qualquer manifestação e perguntas norteadores, desde que tenha relação com o tema abordado permitindo o lacre, o que para o cantor Liniker é quando as pessoas se permitem a serem “lacradoras, maravilhosas e empoderadas”. Por fim, a ST tem o intuito de fomentar a ampla discussão entre as(os) pesquisadoras(os) envolvidas(os) possibilitando uma dinâmica afroLGBTcentrada que estabeleça inquietações para resistir às hierarquizações das desigualdades sociais dentro e fora da academia.
ST 25 - Sernegra na Educação Básica: da identidade do/a professor/a negro/a às identidades raciais e de gênero dos/as educandos/as. Alessandra Pio (Colégio Pedro II) & Fabiana Lima (UFSB)
A partir da nossa atuação como docentes negras na Educação Básica e do diálogo teórico em torno de como o racismo à brasileira dá forma a práticas educativas excludentes, conforme os estudos de Nilma Lino Gomes (1995), Eliane Cavallero (2003), Sueli Carneiro (2005), Kabengele Munanga (2004), Antonio Sérgio Guimarães (1999), esta Seção Temática (ST) objetiva levantar discussões teórico-metodológicas acerca da corporalidade dos sujeitos envolvidos nas dinâmicas educativas, através de processos que envolvem tanto as identidades raciais de professoras e professores negros quanto o processo de construção de identidades raciais e de gênero dos educandos. Na medida em que a diáspora africana no Brasil se construiu em meio a um ideal de branqueamento, que acabou por criar uma espécie de racismo profundamente calcado em características fenotípicas, sobretudo a partir da inferiorização das tonalidades escuras de pele, do cabelo crespo ou carapinha e de outras características físicas consideradas passíveis de serem classificadas, impõe-se a necessidade de uma ST destinada a dar centralidade ao corpo negro e ao racismo estético em espaços educativos. Compreendemos, com Cuche (1999), que a cultura é resultado de vivências concretas de visibilidades na forma de conceber o mundo e que, se percebemos que isso é construído, podemos interferir nesse processo, mudando os resultados. Como, infelizmente, na educação brasileira, o processo de subalternização do corpo da população negra implica também dúvidas acerca do valor das negras e negros enquanto sujeitos cognoscentes e produtores de conhecimento, o/as participantes desta ST trocarão trabalhos acadêmicos, ideias, propostas e projetos educacionais tanto acerca do racismo e de práticas discriminatórias que perpassam a educação e espaços formais e informais quanto dos processos de humanização e construção de identidades raciais e de gênero do/as educadores e educando/as.
ST 26 - Escambo de estratégias quilombolas: formas de lutar pela/com identidade, territorialidade e educação. Patrícia Maria de Souza Santana (UFMG) & Gilmara Silva Souza (UFMG)
Essa Seção Temática busca acolher reflexões acerca das estratégias de luta e resistência de comunidades quilombolas frente à construção de suas identidades, a manutenção e proteção de seus territórios e produção e comunicação de seus saberes. As identidades quilombolas são ativamente construídas, produzidas e disputadas nas relações sociais internas e externas às comunidades. Nos últimos anos, com o avanço de políticas públicas que focalizam as diferentes identidades sociais deste país, comunidades quilombolas vem se articulando internamente, demandando e ocupando em outros e novos espaços de poder fora da comunidade, concomitantemente. Quais estratégias de lutas são construídas por mulheres e homens quilombolas? O que as crianças têm ensinado às pessoas mais velhas sobre afirmação de sua identidade quilombola, em tempo-espaços como brincadeiras na rua, aprendizagens nos quilombos, salas de aula etc? Quais saberes as mulheres quilombolas articulam para defesa do território da comunidade? Como são traçadas estratégias de mobilização em prol de um bem comum da comunidade entre a Associação Quilombola e a Escola inserida (ou não) na comunidade? Essa ST coloca-se como um espaço aberto para reflexão em torno das lutas quilombolas e os saberes construídos e instituídos através de suas trajetórias de lutas, histórias comuns de ligação com a ancestralidade africana, com as africanidades ressignificadas na diáspora. Serão considerados aqueles estudos e pesquisas que utilizam metodologias que dão voz as pessoas quilombolas em suas experiências e vivências além de trazer epistemologias que dialogam com a diversidade de pensamentos em torno dos significados de aprender, conhecer, resistir, lutar e construir outras histórias.
ST 27 - Mídia, representação social e a luta antirracista
Silvia Elaine Santos de Castro (Unicamp)
A Seção Temática visa promover o debate acerca das relações raciais e a mídia na América Latina, primando pelo olhar de veículos que promovam a luta antirracista e suscitam novas identidades e representações sociais, nas mais variadas plataformas (cinema, rádio, TV, internet e impresso). Novos olhares e narrativas são fundamentais para a consolidação da democracia; florescer a pluralidade de discursos e a promoção da diversidade são centrais para o enfrentamento da desigualdade racial, em busca de novas identidades. O ST pretende reunir pesquisadoras/es, produtoras/es e comunicadoras/es que fazem do seu trabalho um esforço para pensar outras formas de comunicação na sociedade contemporânea. Sobretudo, aqueles que promovem o debate acerca dos marcadores sociais de diferença como raça, gênero, classe e idade, com perspectivas teóricas diversas e abordagens metodológicas variadas, principalmente, pesquisas qualitativas que abordam empírica e conceitualmente esses fenômenos pensando-os de modo interseccional. No entanto, trabalhos que apresentem críticas aos conteúdos das mídias tradicionais também serão bem-vindos. Espera-se propiciar um espaço para reflexão sobre os caminhos que se têm ainda de trilhar para a consolidação de uma nova representação social que valorize a diversidade de forma ampla e igualitária.
ST 28 - Negritude, identidade e memória no contexto das escolas quilombolas no Brasil
Lisângela Kati do Nascimento (USP) & Elson Alves
Durante a 1ª Conferência Nacional de Educação realizada em 2010 em Brasília, o movimento quilombola exigiu atenção do Estado para o reconhecimento da necessidade de uma educação diferenciada para os quilombos brasileiros. Em 2012, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica (Resolução CNE/CEB no 08 de 2012), entendida como modalidade da educação básica que compreende as escolas quilombolas (aquelas que estão localizadas em territórios quilombolas) e as escolas que atendem estudantes quilombolas. Essas escolas devem garantir tanto a formação básica comum, como devem criar condições para que as especificidades do modo de vida quilombola, a sua história de luta, a memória, os conhecimentos tradicionais, os seus valores culturais, bem como suas contribuições históricas na formação do nosso país, tornem-se conteúdo de estudo na escola. Grande parte dos gestores dessas escolas e, principalmente, dos professores que atuam nessas escolas tiveram uma formação estruturada nos princípios da colonialidade e, portanto, muitas são as dificuldades para a implementação da educação quilombola como modalidade de ensino. Embora haja inúmeras iniciativas de práticas pedagógicas visando superar a visão eurocêntrica, é necessário um processo mais amplo de formação inicial e continuada de professores para o trabalho com as temáticas da negritude, identidade e modo de vida quilombola, visando o enfrentamento das desigualdades raciais em nosso país, contribuindo assim a formação de alunos e alunas quilombolas como sujeitos sociais portadores de uma história. Espera que essa seção contribua para esse debate sobre a necessidade de uma educação específica voltada para o contexto dos quilombos brasileiros. Sendo assim, essa ST tem por objetivo contribuir para esse debate aproximando a academia da escola, reunindo tanto trabalhos acadêmicos voltados para a questão da educação quilombola, quanto trabalhos e relatos de experiência vivenciadas e colocados em práticas nessas escolas. Além disso, serão bem vindos também trabalhos correlatos, tratando da questão da negritude, raça e identidade no contexto escolar.
ST 29 - Educação decolonial: saberes de um Brasil mais ao Sul
Claudia Miranda (UFRJ) & Roberta Rodrigues Rocha Pitta (PUC-Rio)
O pensamento decolonial assume o desafio de construir atalhos que inspiram a rebeldia e a desobediência por sugerir uma produção teórica e política na contramão do instituído. São aportes que nos estimulam a reconhecer outras entradas e convida-nos a enfrentarmos provocações epistêmicas. Esse diálogo é parte das concepções sobre um Brasil mais ao Sul e menos ao Norte, que emerge de alianças potentes com os iguais da fronteira estabelecida. Convidamos aqueles/as interessados/ na clave decolonial e na recuperação das memórias coletivas a apresentarem suas produções e promoverem outras propostas sobre pensamento educacional e pedagogias alternativas. As pesquisas no contexto conhecido colonialmente como América Latina emergem como um mosaico conceitual indispensável para um Brasil mais ao Sul. Aproximamo-nos do portal de Abya Yala com uma proposta de base "intercultural", de produção de saberes outros e conhecimentos decoloniais. Sob essas inspirações, a sessão temática aqui proposta é um convite e uma aposta em outros constructos pedagógicos e epistêmicos. Buscamos a promoção do debate e da criação de um fórum permanente que privilegie as narrativas outras refletindo questões de gênero, raça, pertencimento e pedagogias alternativas. As histórias e os sujeitos das metanarrativas são representados e forjados a partir de supremacias ideológicas permanentemente questionáveis. Interessa-nos problematizar a experiência de sujeitos insurgentes que questionam a subalternização e a "diferença colonial" inventada. A ideia de “descolonização do pensamento” é atraente para a perspectiva que cruza o questionamento das histórias sobre um Outro da colonização e o seu deslocamento nessas relações mistas (entre insurgentes e estabelecidos). Nosso compromisso é entender os processos vigentes onde são forjadas as outras narrativas com as quais nos identificamos, sobretudo com aproximações significativas nesse mosaico proposto por Aníbal Quijano, Catherine Walsh e Sueli Carneiro. Vimos interseções que provocam amplos mergulhos por assumirem uma ética e uma filosofia insurgente para o pensamento pedagógico. Ao organizarmos essa proposta em pares, de modo horizontal emergem provocações que fomentam redes interculturais de produção de saberes e de amplas abordagens educacionais. Nessa direção, outras ambiências de construção de sentidos em realidades multifacetadas nos convidam a recuperar achados teóricos e políticos que incidem em novas apostas, em pedagogias decoloniais.
ST 30 - "Quando a criança negra fala": pesquisas com as crianças negras e quilombolas
Márcia Lúcia Anacleto de Souza (Unicamp) & Flávio Santiago (Unicamp)
As pesquisas sobre infância no Brasil têm sido instigadas a olhar para as crianças a partir de suas próprias vozes e contextos sociais e culturais, em diálogo com sociólogos, geógrafos e pedagogos da infância, e antropólogos da criança. Estes estudiosos problematizam o lugar das crianças na produção do conhecimento sobre elas, a representação social que elaboram sobre o mundo que as cerca, e indagam o campo teórico-metodológico que, em geral, fala “sobre” e não “com” a criança. Nesta Seção Temática, propomos reunir pesquisadores e pesquisadoras que compreendem as crianças na perspectiva das “culturas infantis”, e neste sentido, reúnem em seus trabalhos o modo como representam a si mesmas e às relações nas quais estão inseridas. Culturas infantis implicam considerar que as crianças são sujeitos sociais que protagonizam a abordagem da própria infância nas cidades e em comunidades quilombolas contemporâneas, junto aos adultos, homens, mulheres, professores/as. Sob este enfoque, propomos pensar as crianças negras e quilombolas das pesquisas realizadas, considerando que, suas formas de expressão em torno dos processos de exclusão racistas e discriminatórios constituem-se em novas formas de colonizar o saber e suas identidades.
ST 31 - Gênero, diáspora africana e raça
João Mouzart de Oliveira Junior (Universidade Tiradentes)
O interesse desta ST é reunir trabalhos que tratem de Gênero, Diáspora Africana e Raça, podendo ser os estudos focados em cada um desses temas, ou que desenvolvam uma articulação entre eles. O objetivo principal é proporcionar um espaço de reflexão e interação, considerando as dimensões teóricas, analíticas ou empíricas dessas questões. A ST acolherá trabalhos que reflitam sobre as relações de gênero, o discurso de diáspora africana, raça, classes sociais, vícios, religiosidades, discriminação, questões geracionais e regionais, das desigualdades e representações sociais e discursos de modernidade e civilização no Brasil. Serão bem-vindos trabalhos que problematizem os elementos da diáspora africana no Brasil e especificamente no nordeste, bem como aqueles que investigam os discursos de gênero e raça na invenção da nação Brasileira. Além disso, chamaremos atenção, para a trajetória de vida de mulheres e homens negros que ficaram na invisibilidade e tonaram-se no transcorrer dos estudos científicos, relegados de uma história oficial. Tudo isso, com o intuito de observar e reunir os debates sobre o que tem sido pensado e problematizado nos últimos anos acerca dos conceitos apresentados na proposta desta ST.
ST 32 - O que quer o/a intelectual negro/a? Desafios e estratégias de epistemologias afrocentradas para o pensamento negro contemporâneo. Leandro Santos Bulhões de Jesus (UniCEUB) & Leonardo Ortegal (UnB)
Movidos pela pergunta clássica “O que quer o homem negro?”, formulada por Frantz Fanon (Pele Negra, Máscaras Brancas. 1952), pretendemos, por meio desta Seção Temática (ST), reunir experiências, reflexões, propostas de indivíduos ou grupos que têm se inspirado nas matrizes epistemológicas consideradas africanas ou afro-brasileiras nas suas práticas. Consideramos que a crítica ao ocidentalismo na construção do conhecimento perpassa pela crítica e revisão dos conceitos, mas passa também pelas estratégias de superação dos referenciais eurocêntricos ainda tão enraizados no ambiente acadêmico e nas nossas formas de pensar e experimentar o mundo. Os chamados estudos subalternos, pós-coloniais, decoloniais, afrocentrados, teorias do sul, mulherismo africana, feminismo negro, entre outros, têm apontado caminhos para a consolidação de soberanias intelectuais tanto por meio do reconhecimento de epistemologias “encobertas” pelo jugo colonial, quanto pelas práticas de cruzamento de saberes. As discussões, nesta ST, poderão incluir pessoas que fazem parte de movimentos sociais, pesquisadores/as e/ou profissionais de diversas áreas, como: filosofia, pedagogia, serviço social, políticas públicas, música, relações internacionais, direito, saúde, jornalismo, geografia, história, literatura, artes, entre outros possíveis.
Veja abaixo os resumos da STs aprovadas.
Clique aqui para acessar a lista completa de Comunicações Orais aprovadas para cada uma das STs